A colonização européia no mundo

O pensamento cartesiano tratou de inaugurar na cultura ocidental o primado da razão sobre qualquer outra forma de conhecimento. Para tal elegeu a mente humana e seus atributos à condição de instância privilegiada da realidade e ponto de partida para a noção de “verdade”. Assim, um dos recursos da razão a serem prescritos e praticados foi o de nomear ou classificar estabelecendo categorias que por sua vez permitiriam uma melhor compreensão dos fenômenos. Mas medidas como essas não ficariam restritas a um procedimento didático quando passaram a estar em jogo as relações que o Ocidente viria a estabelecer com outros povos ou culturas, seja no tempo ou no espaço.
Um bom exemplo acontece na própria Europa quando artistas e pensadores da Renascença começam a ganhar prestígio no cenário cultural pelo continente. No afã de legitimar sua opção pela cultura praticada pelos antepassados greco-romanos, elegeram a cultura estabelecida a partir da ascensão do cristianismo como traço diferencial negativo de seus antecedentes mais próximos no mundo medieval. O resultado dessa categorização foram termos como “Idade das Trevas”, para expressar a influência da igreja no pensamento daquele período, que se inicia a partir da cristianização de Roma, supostamente um tempo de declínio do conhecimento.
Outra dessas categorias foi o “gótico”, criado pelos renascentistas para simbolizar o estilo cultural e artístico que se estabelece nas antigas possessões romanas na Europa depois da invasão dos povos chamados “bárbaros”. Um desses grupos culturais, os godos, foram tomados como insígnia do desmantelamento de uma cultura tida como superior – a de Roma – em favor da ascensão de outra, considerada de menor nível. Apesar da propaganda negativa que desde o século XV bombardeia o mundo medieval, determinando nossas percepções até hoje, os estudos contemporâneos têm mostrado que nem a Idade Média foi um período destituído de criações do intelecto, aliás muito pelo contrário, nem a cultura gótica se distancia de outros períodos culturais em matéria de arte, cultura ou pensamento.
As culturas africanas também seriam amplamente manipuladas pelo academicismo europeu no objetivo de inferiorizar o material humano do continente, utilizando para isso recursos científicos, que permitiram sua dominação ao longo de todo o período colonial. O melhor exemplo talvez venha da fundação das chamadas ciências egiptológicas, através das quais foi possível uma incrível distinção racial dentro do continente, fixando antigos impérios clássicos e poderosos, como o Egito e a Núbia, como formados por povos de origem semítica (a famosa “África branca”), em contraste com a realidade subsaariana, que seria predominantemente “negroide”, na qual reinos de grande destaque como os citados acima não foram registrados.
Essa distinção seria muito bem-sucedida do ponto de vista da visão que ainda hoje se mantém daquele contexto, onde, por exemplo, a ideia de que o Egito pertence ao Oriente Médio e não à África é ainda muito popular pelo planeta. O sucesso da empreitada também fica evidente se levarmos em conta as imensas riquezas que as regiões ao sul do Saara conferiram aos europeus, aí se incluindo o ultrarrentável comércio escravista. Essa visão altamente inferiorizante projetada pelos europeus a respeito dessa tal África negra deixa marcas até hoje nas nações africanas mesmo depois de encerrado o ciclo colonialista.
Os europeus também levaram sua faina classificadora ao chamado Oriente, no bojo dos projetos expansionistas que se iniciam a partir do final do século XVIII. Durante esse período países como Inglaterra e França investiram em eruditos da cultura oriental, que acabaram funcionando como espécies de consultores que nortearam culturalmente a presença dos europeus em terras longínquas e misteriosas, muitas delas com poucas conexões com seu passado histórico. Alteradas por muitas transformações, em grande parte pela forte presença islâmica, várias regiões do Antigo Oriente foram praticamente relidas a partir do que os eruditos europeus apresentavam como conhecimento histórico, o que podia englobar desde registros linguísticos até literários.
O Egito que a França napoleônica encontrou, por exemplo, pouca importância dava ao patrimônio material e cultural que registrou a presença de uma civilização tão grandiosa e referencial como a dos faraós e suas inúmeras dinastias. Num trabalho que transitou da pesquisa e recuperação de vestígios arqueológicos até a organização de textos tradicionais, os europeus, por assim dizer, ensinaram os egípcios a conviver e se utilizar da própria história. Algo em parte semelhante ocorreria no subcontinente indiano sob ocupação inglesa.
É obvio que um esforço como esse, apesar de grandioso e até certo ponto de interesse universal, foi empreendido com a intenção de melhor possibilitar os interesses colonialistas dessas nações europeias. Mas não se pode deixar de lado o fato de que o Oriente recriado pelos eruditos naturalmente haveria de ter muito das interpretações e prerrogativas derivadas da mentalidade europeia, o que faz toda diferença do ponto de vista de como hoje podemos trabalhar com a noção de “Oriente”.
O Novo Mundo naturalmente não ficaria a salvo desse processo. A presença missionária principalmente se encarregaria de estabelecer para os povos nativos do continente classificações e distinções que até então não apresentavam pra eles nenhuma relevância. No Brasil, por exemplo, as etnias que hoje entendemos como pertencentes ao tronco tupi não se compreendiam como parte de um grupo cultural, apesar de partilharem entre si hábitos e semelhanças linguísticas. A política de aldeamentos organizada por jesuítas tomou como base o que entendiam ser uma cultura dos tupis e a ergueram como uma espécie de padrão indígena das terras do Brasil.
Essa classificação permitiu aos missionários manipular grande parte das relações entre europeus e nativos na América, principalmente porque os aldeamentos abrigaram índios de várias etnias e troncos culturais. Ao final de algumas gerações educadas pelos padres, a extraordinária diversidade cultural dos povos indígenas brasileiros de alguma forma se reduziu a um certo tipo básico, mas fácil naturalmente de adequar à lógica da exploração colonial.
Se esses recursos foram utilizados durante o período colonial na América, também não deixariam de sê-lo quando as nações do continente já haviam se tornado independentes. As muitas discordâncias entre as elites coloniais e seus conterrâneos na Europa, que precederam os movimentos por autonomia política, levaram a que primeiramente fosse usado o termo “hispano-americano” para estabelecer uma diferença entre essas partes.
Um outro fator se acresce a essa situação já no início do século XIX, quando já há a independência política de quase todo o continente: o aparecimento da famigerada Doutrina Monroe, revelando os planos da nação estadunidense de firmar-se como força hegemônica e exercer influência sobre o conjunto das nações americanas. Vários intelectuais e líderes “hispano-americanos” reagiram a esse objetivo, sendo evocada a formação anglo-saxã dos “amigos do norte” como um elemento em oposição à identidade cultural predominante nos países de língua espanhola.
Esse período também se defronta com um último fôlego de colonialismo que os franceses tentam tomar, aproveitando a lacuna deixada pelo antigo colonizador. Ao contrário dos Estados Unidos, a França pôde alegar a sua formação latina como elemento preferencial numa eventual hegemonia sobre os países do continente. Foi no contexto do “panlatinismo” empreendido no governo francês de Napoleão III que surge o termo “América Latina”, que acabou se fixando no imaginário dos povos do continente.
Cabe dizer que essa discussão identitária envolvendo o continente americano só passaria a envolver o Brasil a partir do século XX, mais precisamente com o contexto da Guerra Fria, quando as nações latino-americanas se viram às voltas com a necessidade de resistir à intensa polarização que marcou aquele período. Isolado por sua condição de império durante a fase colonial e pela barreira da língua, os brasileiros passaram ao largo desse debate durante as lutas pela independência política no século XIX, de forma que uma identidade ligada à ideia de uma América unida é algo que só recentemente passou a habitar o nosso imaginário.
Leia também: “Como povos orientais e africanos ajudaram a Europa a inventar o Ocidente”, em: http://bit.ly/2wbKqXX
Por Sandro Gomes | Professor, escritor, mestre em literatura brasileira e revisor da Revista Appai Educar.































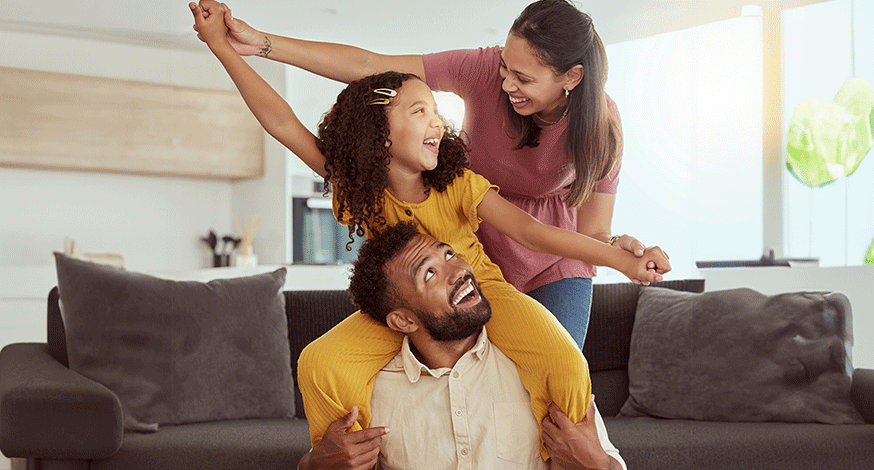


Deixar comentário