Escravidão indígena no Brasil

A escravidão do africano é um item bastante disseminado e visitado da cultura brasileira, sendo algo relativamente bem conhecido pelo menos em seus aspectos mais gerais. Isso ocorre a tal ponto que o cativeiro do indígena, ao contrário, é um fato que passa despercebido da maior parte das pessoas. Essa realidade se deve, entre outras coisas, a certo lugar-comum que se manteve na tradição historiográfica brasileira que menciona a escravidão dos primeiros habitantes das terras como um elemento presente basicamente apenas nos primeiros tempos após a chegada dos europeus.
É fato que a bula anunciada pelo papa Paulo III em 1537, ao conferir humanidade aos povos originários das terras ocupadas pelas nações colonizadoras, funcionou como importante base para que os primeiros missionários atuassem para impedir que os nativos sucumbissem diante da sanha escravista dos primeiros aventureiros que chegaram ao continente com finalidade de explorar os recursos naturais e se depararam com sérios problemas de mão de obra. Mas o que estudos mais recentes têm demonstrado é que, não só o cativeiro indígena não se extinguiu com as decisões tomadas no século XVI, como persistiria por muito tempo depois, vindo a ser abolido de fato quase ao mesmo tempo que a própria escravidão de africanos.
A partir da bula papal os jesuítas se dedicaram a obter junto a autoridades portuguesas o estabelecimento de leis que garantissem a liberdade aos filhos da terra, e nisso encontraram sempre pelo caminho a presença de traficantes de escravos indígenas que os capturavam e forneciam aos primeiros proprietários de engenho que se instalaram por aqui. Assim, o primeiro século da colonização portuguesa foi marcado por intensos embates entre padres e bandeirantes, já que, apesar de haver deliberações e ordenamentos proibindo o cativeiro indígena, a vista grossa de certas autoridades em nome dos objetivos mercantilistas abrigados pela coroa levava a uma situação de incerteza e dubiedade em que as capturas de nativos não cessavam definitivamente, mas também não chegavam a ser um negócio admitido e regularizado pelas autoridades coloniais. Ou seja, prevalecia a lei do mais forte.
Um marco temporal para o fim da escravização dos índios seria o século XVIII, quando o mandatário do reino, o Marquês de Pombal, edita um diretório que estabelece em termos legais a proibição do cativeiro dos nativos e delibera que a mão de obra do índio seja empregada no regime de trabalho livre. Mas, omisso e obscuro em muitos pontos, acaba não funcionando como modo de coibir a ação de traficantes. Essa ineficiência da lei seria muito prejudicial aos índios principalmente depois que o próprio marquês decide expulsar os jesuítas das terras brasileiras, inviabilizando a metodologia dos aldeamentos que havia obtido algumas conquistas importantes no objetivo de impedir a captura e escravização dos nativos. Nas localidades aldeadas, além de ser menor o assédio das tropas de bandeirantes, a conversão do índio em trabalhador nos moldes “cristãos” permitiria que eles participassem da política de distribuição de mão de obra organizada pela coroa, que garantia que indígenas fossem cedidos a engenhos por temporada, revezando-se entre a condição de aldeado e a de trabalhador livre.
A quebra desse sistema, com a inviabilização das missões, deflagraria uma grande onda de perseguição tanto a índios aldeados, já cristianizados, como às etnias que ainda não haviam passado pelos procedimentos de “descimento”, com o qual supostamente escapavam à vulnerabilidade frente aos ataques de traficantes, mas em contrapartida perdiam completamente a sua condição original, não tendo outra opção a não ser adequar-se aos costumes e rotinas estabelecidos nos aldeamentos. Em resposta ao aumento da brutalidade dos traficantes de escravos, muitos grupos indígenas, principalmente os de temperamento mais arredio, lançaram-se definitivamente à luta, transformando para pior a já sangrenta realidade dos sertões brasileiros.
É nesse contexto que entram em cena as chamadas “guerras justas”, que não eram outra coisa senão a estratégia de declarar como perigosos para os objetivos e a ordem coloniais os grupos indígenas que partiam para a luta contra os brancos. Os capturados nesses conflitos se tornavam prisioneiros de guerra e eram atirados sem piedade aos trabalhos forçados. Não foram poucos os casos em que simples desavenças entre colonos e indígenas foram propositadamente erguidos à condição de guerras, para facilitar a aquisição de novos cativos, que por esse meio podiam ser comercializados sem maiores implicações com as leis vigentes. Uma espécie de variantes das guerras justas eram as ações de ataque a grupos indígenas vencedores em conflitos intertribais. A justificativa para a investida era a de libertar indígenas da antropofagia, já que esse era o destino que muitas etnias davam aos inimigos que lhes caíam nas mãos. O final da história, naturalmente, terminava com os índios resgatados sendo encaminhados para colaborar nos engenhos, como trabalhadores livres, enquanto os “gentios” se tornavam cativos e eram colocados no mercado.
O século XIX não seria muito diferente para os nativos da terra. Apesar de uma nova legislação que em alguns pontos buscava coibir os excessos contra os índios, a chegada da Família Real de alguma forma voltava a incendiar os sertões quando uma carta régia assinada pelo rei Dom João VI em 1808 autorizava a guerra contra os Botocudo, de Minas Gerais, pintados como cruéis e perigosos. Esse ato acabaria propiciando a eclosão de vários outros conflitos sob pretexto de livrar a “civilização” de selvagens indesejados. Depois da Independência se fortalece um discurso que procurava colocar o país na rota de outras nações consideradas avançadas, o que faria dos nativos, mais do que nunca, um tipo incômodo. Muitos presidentes de província, que tinham liberdade de tomar decisões referentes aos indígenas de seu território nos casos não claramente previstos pela lei, estimulavam ações de hostilidade a aldeias próximas a cidades, obrigando um grande número a se embrenhar pelos sertões, onde acabavam tendo que trabalhar sob o jugo de capatazes para comer ou apenas para permanecerem vivos, em autêntica situação de escravidão, mesmo com a lei proibindo àquela altura comercializar e empregar indígenas como cativos.
Um exemplo de como decisões de líderes locais contribuiria para estender o cativeiro indígena foi a edição de uma lei em 1838 na província do Pará, como consequência dos conflitos da Cabanagem, uma rebelião com grande participação de indígenas (mas não apenas deles), que alguns anos antes espalhou violência e morte pelas florestas da Amazônia. A lei lançava a ideia de “corpo de trabalhadores”, que o governo poderia constituir arbitrariamente entre populações não brancas para atuar em obras públicas e até em empreendimentos de particulares. A deliberação vigorou oficialmente até 1870 e não ficaria restrita aos sertões do Brasil. Ainda que de forma clandestina, cidades mais desenvolvidas de outra parte do país continuariam ainda recebendo, como trabalhadores, indígenas rudemente afastados de seus locais de origem, que eram transferidos sem qualquer possibilidade de decisão em contrário.
O cativeiro indígena foi um capítulo do genocídio sofrido pelos nativos das terras brasileiras ao longo da colonização. Mesmo não se tratando de um processo tão institucionalizado como foi a escravidão de africanos, o índio experimentou sempre as duras impressões de quem passa por essa situação, como a coação, a apropriação da sua força de trabalho e a destruição de seu senso de pertencimento a um povo ou a uma cultura. Se irmanam, dessa forma, aos africanos como vítimas da rudeza de um sistema de forte viés mercantilista, ainda que a abolição de sua escravatura não tivesse tido uma assinatura festejada, um rito cívico ou se tornado uma data comemorada na história oficial.
Se você gostou desse texto, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e curta a página: facebook.com/arteseletras2016
*A ilustração desse artigo é “Caçador de Escravos”, no olhar do artista Jean-Baptiste Debret.
Por Sandro Gomes | Professor, escritor, mestre em literatura brasileira e revisor da Revista Appai Educar.






















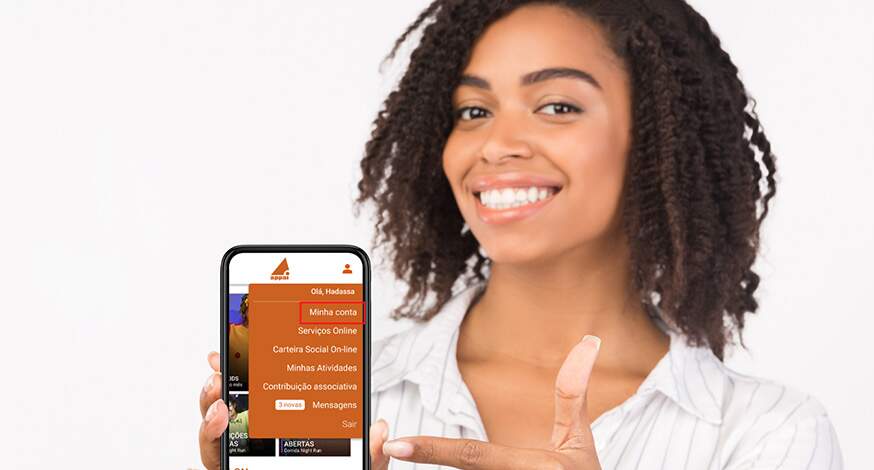











Deixar comentário