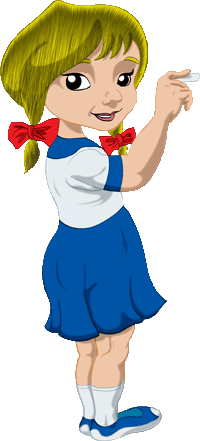Segundo Ana Paula Corti, pesquisadora da Ação Educativa, de São Paulo, a questão está muito presente no horizonte das gerações mais novas, porém as escolas não a incorporaram como fonte de intervenção pedagógica. O desconforto em relação ao assunto é fácil de entender. Trazer os temas do medo e da agressividade para a sala de aula não parece combinar com o papel construtivo e pacificador que o universo escolar, com razão, costuma chamar para si. Entretanto, algumas experiências, descritas nas próximas páginas, indicam que vale a pena abandonar essa suposta neutralidade e encarar uma realidade que, de um modo ou de outro, interfere diretamente na vida de todos nós.
Cidade Ocidental, na região metropolitana de Brasília, aumentou sua população em dez vezes nos últimos 15 anos – de 4 mil para 40 mil habitantes. “Os serviços públicos são deficientes e raramente alguma autoridade nos visita”, diz André Brito, professor de Inglês e História da E.M. Engenheiro Edson André de Aguiar. A violência já atingiu níveis assustadores, com um número crescente de assaltos e homicídios, e André encontrou um meio de engajar seus alunos no aprendizado, incentivando-os a buscar conteúdos e informações que os levem a refletir sobre a própria realidade.
Dançarino de break e entusiasta da cultura hip-hop, ele põe em pauta assuntos de interesse dos adolescentes de 7.º a 9.º ano. Os temas vão desde as raízes históricas do racismo até a relação dos rappers americanos com a violência urbana, estudada pela letra de suas canções. A atividade curricular está vinculada ao projeto Casa do Hip-Hop. Dali partem grupos de alunos empunhando latas de spray para grafitar vários pontos da cidade, com a devida anuência da administração municipal. Um dos desenhos mostra um garoto largando uma arma para pegar um lápis.
André conta que muitos dos estudantes têm parentes (em alguns casos até os pais) na prisão. “São os mais receptivos aos assuntos que trago para a sala de aula”. Nas atividades do 8.º ano sobre história da África, os negros e mestiços podem perceber sua inserção (e não-exclusão) nos grandes processos sociais que movem o mundo. Entendem também que a violência e a discriminação têm raízes antigas, fincadas na escravidão.
Segundo especialistas, um dos fatores que atraem jovens de baixa renda para o crime é a possibilidade de superar a invisibilidade social a que habitualmente estão sujeitos. A autodescoberta dos alunos de André passa por essa questão. Aos pais que viam com desconfiança o entusiasmo dos filhos pelo rap, o professor explicou a importância da música para o aprendizado e a reflexão. “Infelizmente, os símbolos da juventude são malvistos nas escolas”, diz Miriam Abramovay. “A família só é chamada para ouvir sobre o boné do filho”. Além disso, quando se fala em violência e Educação, é difícil escapar da constatação de que o ensino no Brasil conserva hábitos autoritários.
Os episódios do PCC inspiraram uma escola longe de São Paulo, mas nem tão distante em termos de vivência social: a E.M. Bárbara Falkowski Vieira, na periferia de Londrina, no Paraná. Cerca de dez dias após os ataques, a professora de 1.ª série Valéria Lopes Redon propôs uma reflexão sobre a crise. Sob orientação do Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação (Geempa), de Porto Alegre, ela montou um painel com recortes de jornais e as notícias foram imediatamente reconhecidas pelos alunos. Alguns dos comentários iniciais impressionaram Valéria: “Os presos mandavam fazer as coisas, davam ordens pelo celular”. As crianças produziram textos em que as descrições de imagens se mesclavam a opiniões (“Podia ser proibido faca na cadeia”) e desabafos emocionais (“Não quero que minha professora morra”).
“Eu me dei conta de quantas coisas da realidade deixei de explorar. Não lidava com o tema por achar que não conhecia o suficiente, sem perceber que eu não sou a detentora do saber. Os alunos conhecem muito sobre esses fatos porque estão ligados à vida deles. Depois desse dia, eles passaram a falar com naturalidade de sua vida, até mesmo sobre o uso de drogas por alguns pais”, relata a professora, que viu resultados surpreendentes no exercício de conversa. História do bairro
Jucileide Ribeiro Mauger, diretora da E.M.E.F. Oliveira Vianna, decidiu, há alguns anos, sair pelo bairro, de porta em porta, convidando a voltar para a sala de aula crianças e adolescentes que haviam desistido de estudar. O Jardim Ângela, em São Paulo, onde está a escola, foi apontado, em 1996, pela Organização das Nações Unidas como o lugar mais violento do mundo. A iniciativa de Jucileide foi a conseqüência de um trabalho interdisciplinar realizado por alunos de 7.ª e 8.ª séries em 1999.
Orientados por pesquisadores da Universidade de São Paulo, fizeram um levantamento histórico e socioeconômico da região que permitiu a ela conhecer detalhadamente quantos e quais eram os evadidos. Quase todos estavam envolvidos com atividades ilícitas e não contavam com a simpatia da comunidade. Imediatamente, o número de classes de suplência saltou de cinco para 15.
A pesquisa resultou também num conhecimento profundo do bairro – desde os tempos em que ali havia apenas chácaras. Essas propriedades foram loteadas, nos anos 60, para receber os migrantes nordestinos que trabalhavam como operários nas indústrias recém-estabelecidas às margens do rio Pinheiros. Duas décadas depois, as fábricas começaram a fechar e a população teve de procurar trabalho no setor informal. Quase todos empobreceram, a incidência de alcoolismo virou praga e a violência irrompeu, com gangues e a lei do silêncio. “O importante foi os estudantes entenderem os fatores que levaram à situação atual”, diz Jucileide. “Hoje, todo o programa de Geografia e História começa pelo estudo da própria escola”.
Os projetos em torno do cotidiano dos alunos continuam na Oliveira Vianna. Recentemente, crianças da 4.ª série, orientadas pela professora Célia Ornaghi, criaram o Manual de Prevenção à Violência. O trabalho começou com uma pesquisa de imagens. O objetivo era contrapor situações que ameaçam a paz a outras que a favorecem. Em classe, foram discutidas sugestões para lidar com a agressividade e para evitar o envolvimento com atividades ilícitas. “Houve muito empenho porque todos se interessam pelo assunto”, nota Célia.
Outra mostra disso foi uma conversa informal na classe de 1.ª série de Marinês de Andrade. Tudo começou com uma briga entre dois meninos. Em pouco tempo, as crianças estavam falando sobre violência doméstica, drogas e presídios. “Elaboramos listas de palavras e, em seguida, pedi que fizessem desenhos”, conta Marinês. Para surpresa dela, os trabalhos mostravam, cinco meses depois, cenas dos atentados do PCC ocorridos em maio.
As drogas e o gigante amigo
Ângela Donboski, também ligada ao Geempa, comprovou a importância das vivências pessoais ao trabalhar com o garoto Patrick Ortiz, de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Ele havia sido tema do curta-metragem Que Letra É Esta?, do cineasta Pedro Rocha. O filme mostra que ele cursava, pelo terceiro ano seguido, a 1.ª série sem se alfabetizar. Patrick e outras crianças com dificuldades de aprendizagem tiveram 14 aulas com Ângela, na E.M.E.F. Vereador Martim Aranha, em Porto Alegre. Ela tinha ouvido alguns alunos mencionarem espontaneamente o uso de drogas na família e, embora relutante, decidiu ouvir as sugestões dos orientadores e abordar o assunto no contexto pedagógico.
 A solução foi colocar em cena um personagem, o amigável gigante Dinomir, que viaja para São Paulo e encontra o irmão envolvido com drogas. Ângela leu uma carta “escrita” por Dinomir, pedindo conselhos às crianças – que se sentiram seguras para se expressar. A professora aprendeu coisas que nem sonhava sobre os estudantes e a realidade em que vivem. Foi nessa atividade que Patrick escreveu, pela primeira vez, um texto compreensível. “Tratar de drogas só foi possível porque aquela turma tinha algo a dizer. Para outras, o tema pode não ter significado algum. Aprendi que nenhum aluno ou turma é desse ou daquele jeito, mas está assim e pode mudar para melhor ou pior conforme a ação do professor”. A solução foi colocar em cena um personagem, o amigável gigante Dinomir, que viaja para São Paulo e encontra o irmão envolvido com drogas. Ângela leu uma carta “escrita” por Dinomir, pedindo conselhos às crianças – que se sentiram seguras para se expressar. A professora aprendeu coisas que nem sonhava sobre os estudantes e a realidade em que vivem. Foi nessa atividade que Patrick escreveu, pela primeira vez, um texto compreensível. “Tratar de drogas só foi possível porque aquela turma tinha algo a dizer. Para outras, o tema pode não ter significado algum. Aprendi que nenhum aluno ou turma é desse ou daquele jeito, mas está assim e pode mudar para melhor ou pior conforme a ação do professor”.
Recentemente, Ângela levou à turma de 1.ª série da E.M. Luciana de Abreu, na periferia de Viamão (Grande Porto Alegre), a notícia de um crime ocorrido na vizinhança, do qual todos ouviram falar: dois assaltantes e um policial haviam morrido num tiroteio. Ela começou com recortes sobre o assunto, uma conversa e uma tarefa: desenhar e escrever sobre o que tinha acontecido. Em seguida, organizou um glossário de palavras e expressões recorrentes. Depois, os estudantes transpuseram a atividade para fichas didáticas e escreveram um texto coletivo.
“Coisas urgentes acontecem lá fora e a escola se mantém no artificialismo do suposto conhecimento neutro”, comenta Esther Grossi, fundadora e pesquisadora do Geempa. “As crianças têm grande senso de realidade, e isso precisa encontrar lugar de expressão na sala de aula. Do contrário, elas só vão aprender o que já sabem”.
|